Escultura Romana como Dispositivo Performativo
Nas últimas décadas, a escultura romana deixou de ser apenas
um objeto de contemplação estática para ser incorporada a performances
artísticas que exploram sua carga simbólica. Artistas e coletivos têm utilizado
réplicas ou imagens clássicas em atos públicos, manifestações e instalações
efêmeras. Em contextos como o das Bienais de Arte ou protestos decoloniais, a
pose heroica dos imperadores ou a serenidade das matronas romanas são
ressignificadas como gestos de ironia ou confronto. Como destaca Claire Bishop
(2012), a performance contemporânea frequentemente instrumentaliza ícones
históricos para desestabilizar suas leituras convencionais, o que inclui o
corpo escultórico romano como palco simbólico de novas narrativas.
Museus, Narrativas e Curadorias Contestadas
A presença massiva de esculturas romanas em museus europeus
continua a provocar tensões entre conservação patrimonial e justiça histórica.
Muitas instituições têm promovido curadorias críticas, que apresentam as peças
clássicas acompanhadas de contextos sobre sua origem, deslocamento e
apropriação. A iniciativa do British Museum de contextualizar suas coleções
romanas com dados sobre escavações coloniais, por exemplo, abre espaço para
narrativas mais complexas e plurais sobre esses objetos (GONZALEZ, 2021). O
próprio conceito de “universalismo museológico” tem sido questionado por
teóricos que apontam para o eurocentrismo embutido na consagração do
“clássico”.
Escultura, Gênero e Corpo Político
Outro eixo relevante nas releituras da escultura romana é o
uso de suas representações corporais para discutir questões de gênero e
normatividade. A predominância de corpos masculinos idealizados nos acervos
romanos tem sido contraposta por artistas que inserem corpos trans, gordos,
racializados ou não-binários em moldes neoclássicos. Essa desconstrução da
“beleza clássica” não apenas desafia o cânone estético, mas também expõe a
historicidade do gosto e a exclusão sistemática de corpos dissidentes no imaginário
ocidental (BUTLER, 2004). A escultura romana, assim, passa a ser reconfigurada
como campo de disputa entre tradição e diversidade corporal.
Escultura Romana e Memória Urbana
Cidades como Roma, Paris, Washington e Buenos Aires ostentam
esculturas inspiradas no modelo romano em praças, palácios e tribunais.
Contudo, movimentos sociais têm questionado a permanência de monumentos que
celebram figuras associadas a regimes de opressão ou valores coloniais. A
derrubada ou recontextualização de estátuas tem se tornado um gesto político —
não de apagamento do passado, mas de reescrita crítica da memória pública.
Nesse sentido, a escultura romana, quando replicada em ambientes urbanos, torna-se
um terreno de negociação entre memória, justiça histórica e direito à cidade
(YOUNG, 2020).
Conclusão
A escultura romana permanece viva não apenas por seu valor
artístico ou legado histórico, mas por sua capacidade de ser continuamente
reinscrita em debates urgentes sobre identidade, poder, corpo e território. Ao
transitar entre museus, ruas, redes digitais e atos performativos, ela revela
sua natureza dinâmica, multifacetada e profundamente política. As releituras
contemporâneas da escultura romana, portanto, não diluem sua importância: ao
contrário, ampliam seu alcance e a resgatam como linguagem crítica do presente.
Referências Bibliográficas
- BISHOP,
Claire. Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of
Spectatorship. London: Verso, 2012.
- BUTLER,
Judith. Undoing Gender. New York: Routledge, 2004.
- GONZALEZ,
Gabriela. Museus e Memórias Coloniais: Curadorias Críticas no Século
XXI. São Paulo: Ed. Unesp, 2021.
- YOUNG,
James E. The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning.
New Haven: Yale University Press, 2020.



.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
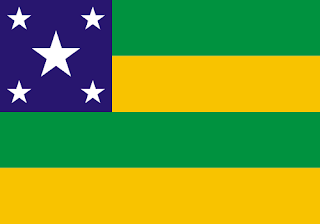
.jpg)
